
Esse mundo administrado, mapeado, estratificado e controlado por saberes múltiplos que se propõem objetivar-se mais e mais, em confluência para um princípio único e comum, não cessa de esbarrar, entretanto, em quadros bastante trágicos e assustadores. Populações extensas do planeta em processo crescente de miserabilização (“os excluídos da globalização”); conflitos territoriais, religiosos, étnicos (“os resistentes da identidade”); ataques terroristas (“os inimigos do estratificado”); proliferação de atos violentos no espaço urbano (“os resultantes marginais e residuais da tensão ordem/desordem”); crise do trabalho (“os sacrificados da obsolescência”); crise e desagregação das relações intersubjetivas (“os desterritorializados da socialidade e da afetividade”) propõem desafios inesperados à razão triunfante e abrem espaço para derivas surpreendentes da subjetividade.
Dessa diversidade em tensão, a mídia, como “central de distribuição de sentidos e valores” (Rolnik, 1989), é a superfície privilegiada na qual racionalidade triunfante e irracionalidade – ordem e caos – compõem o espetáculo desse mundo ruidoso atravessado por fluxos contínuos que, indo sem cessar de um pólo a outro, criam nódulos de aderência, pólos intermediários/parciais com seus próprios vetores, os quais, se não sabemos para onde se dirigem (e nos dirigem), não nos arriscamos a não acompanhar, em esforços de evitamento de uma ameaça difusa que paira sobre nós, a de sermos capturados pelo que nos excede, a de perdermos nossas referências – cognitivas, semióticas, estéticas, afetivas... –, de nos tornarmos, enfim, um nada girando no próprio vazio.
Se, perante os produtos da mídia, experimentamos esse sentimento de estarmos sendo arrastados muitas vezes para um indeterminado difuso, também nos damos conta de que as medidas protetoras em relação à deriva vêm da própria mídia e sua loquacidade, que, expondo esses fluxos e fazendo deles suas extrações, não cessa de indicar tendências, de desenhar aqui e ali pequenas territórios com seus sucessos, com seus estilos, com suas estratégias, com seus slogans que se oferecem como superfícies de aderência às aspirações identitárias, sinalizando, enfim, o que o mundo/mercado espera de nós a cada momento, esse dever-ser com o qual, candidatos ansiosos a um lugar nele, devemos compor nossas objetivações. Essa é, pelo menos, a advertência que ela própria nos faz, em seu papel social de atualização, expondo e reiterando quotidianamente sua potência de nos antecipar o saber que precisamos saber. Um “precisar saber” que é condição para se estar com um outro de forma inteligível, ou, mais ainda, para configurar o próprio lugar no mundo, desenhando-se como um sujeito comunicativo, permanentemente “ligado”, visível e disponível às demandas, pronto – pró-ativo – para a ação.
Da deriva das subjetividades, do colapso da idéia do indivíduo autônomo e livre capaz de escolhas e de gestão da própria vida, da desintensificação de pensamentos e movimentos que supõem uma longa preparação (sinalizando a “crise” da psicanálise, da filosofia, dos movimentos criadores em um mundo pragmático dependente de resultados imediatos), a mídia não cessa, enfim, de extrair e inventar um sujeito possível e mutante cuja principal atribuição de liberdade é, como instância final, negativa: a de não poder deixar de estar presente aos produtos que ela própria nos oferece e a de não poder deixar de se comunicar, isto é, a de não poder deixar de estar agenciado pelos campos de enunciação dominantes dos quais a própria mídia se faz porta-voz. Assim, a mídia constrói, para cada um de nós, tanto um campo de visibilidade quanto um campo de enunciabilidade propostos como comuns, indicando a forma como devemos estabelecer, entre um e outro, relações de implicação, reconhecimento, significação, determinando, enfim, o que deve e pode ser aceito como verdade na comunidade humana à qual pertencemos. Tal é o poder da mídia, enquanto “central de distribuição de sentidos e valores”. Se nessa invenção reconhecemos que, com freqüência, ela é perversa,[1] é necessário reconhecer também que há suficientes demandas desejantes para sustentá-la nessa posição, garantindo-lhe, assim, sua própria legitimidade.
Face a tal quadro, não é de surpreender que, nos debates cotidianos, quando os temas são mídia e mercado global – e as transformações que se operam, com sua expansão e hegemonia, nas condições de existência e de trabalho –, os estados de alma sejam bastante conflitantes: manifestações entusiásticas de uns com as novas possibilidades do fazer, do tornar visível e do mercadizar misturam-se com inquietações de outros, que destacam a manipulação, os excessos e a sujeição de consciências promovidos por uma mídia excessivamente determinada pelo mercado e seus corolários: a competitividade, a violência, o consumismo (de objetos e de corpos)... que acabam por levar, em seu limite, a uma banalização do Mal. Entre “integrados” e “apocalípticos” e seus confrontos, o sentimento que permanece como resíduo é de que o pensamento encontra nesses debates poucas condições para avançar, incitados que somos a tomar partido de um ou outro lado.
É nesse “entre” – um campo articulado por relações de forças – que devemos buscar construir nossas linhas de fuga, procurando pensar o dispositivo comunicacional numa “terceira via” que nos permita reconhecer sua operatividade no agenciamento da subjetividade, cujo resultante final seria esse “sujeito possível” da comunicação [...].
[1] Perversidade que será necessário reconhecer na maneira como ela se estrutura e estabelece com seu consumidor/receptor relações de implicação e significância.
.png)











.jpg)
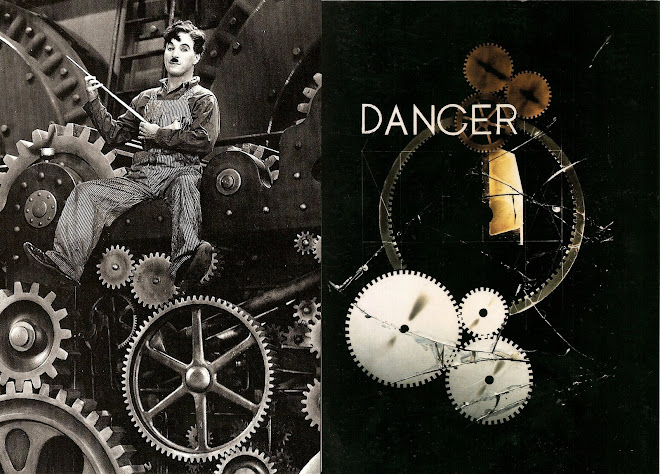
.png)